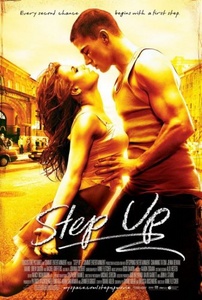O cinema, com toda a sua magia, só consegue atingir dois dos nossos sentidos. Como então filmar uma história que tem em sua base justamente um dos que a tela não consegue transmitir? Um conjunto de bom roteiro, boa diretor, boa produção e bons atores. Mas, como sempre, e fazendo uma analogia ao próprio filme, não é apenas misturando os ingredientes corretos que se obtém um bom resultado. Perfume é uma obra de sutileza pouco vista, especialmente nas produções atuais. Resultado dos bons itens essenciais dosados na forma correta.
A história do jovem Jean-Baptiste Grenouille, um rapaz na França do século XVI que nasceu com um dom incomum – uma sensibilidade olfativa que beira a perfeição. Sua obsessão pelos odores, pela busca de uma maneira de preservá-los e pela criação do perfume perfeito o levam a cometer uma série se assassinatos – todos de garotas jovens e bonitas. Todo o filme é recheado de belas “descrições”, que substituem o sentido que falta à película. Tudo que Grenouille – muito bem interpretado pelo desconhecido Ben Whishaw – consegue perceber com seu olfato é mostrado na tela, um reflexo honesto de toda a poesia que só ele consegue perceber.
O diretor Tom Tykwer é lembrado pelo moderno e cult Corra Lola Corra. Aqui ele mostra um estilo mais clássico de filmar, mas mantém as mesmas características essenciais que sua produção mais famosa apresentou. À frente de um bom time de atores, como os veteranos Alan Rickman e Dustin Hoffman, e as belas Karoline Herfurth e Rachel Hurd-Wood, Tykwer administra com muita sensibilidade a bela composição do filme, muito bem marcada pela narração do também veterano John Hurt.
O livro em que o filme baseou-se foi muito famoso nos anos 80. É possível que volte a sê-lo agora, como aconteceu com o Senhor dos Anéis. O filme não agradará a todos – é possível que nem mesmo passe pelo crivo popular, mais ávido por efeitos especiais grandiosos e muitos tiros e explosões do que por filmes com alguma poesia. Não se deixe enganar por quaisquer opiniões negativas que encontrar. Não é sempre que a sétima arte volta a merecer esse título.
A história do jovem Jean-Baptiste Grenouille, um rapaz na França do século XVI que nasceu com um dom incomum – uma sensibilidade olfativa que beira a perfeição. Sua obsessão pelos odores, pela busca de uma maneira de preservá-los e pela criação do perfume perfeito o levam a cometer uma série se assassinatos – todos de garotas jovens e bonitas. Todo o filme é recheado de belas “descrições”, que substituem o sentido que falta à película. Tudo que Grenouille – muito bem interpretado pelo desconhecido Ben Whishaw – consegue perceber com seu olfato é mostrado na tela, um reflexo honesto de toda a poesia que só ele consegue perceber.
O diretor Tom Tykwer é lembrado pelo moderno e cult Corra Lola Corra. Aqui ele mostra um estilo mais clássico de filmar, mas mantém as mesmas características essenciais que sua produção mais famosa apresentou. À frente de um bom time de atores, como os veteranos Alan Rickman e Dustin Hoffman, e as belas Karoline Herfurth e Rachel Hurd-Wood, Tykwer administra com muita sensibilidade a bela composição do filme, muito bem marcada pela narração do também veterano John Hurt.
O livro em que o filme baseou-se foi muito famoso nos anos 80. É possível que volte a sê-lo agora, como aconteceu com o Senhor dos Anéis. O filme não agradará a todos – é possível que nem mesmo passe pelo crivo popular, mais ávido por efeitos especiais grandiosos e muitos tiros e explosões do que por filmes com alguma poesia. Não se deixe enganar por quaisquer opiniões negativas que encontrar. Não é sempre que a sétima arte volta a merecer esse título.